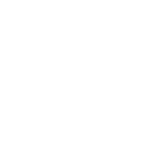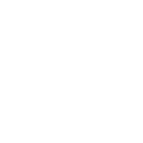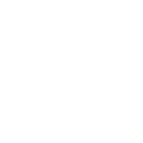Uma avassaladora participação de "Los Angeles - Cidade Proibida" (Oscar de Melhor Roteiro em 1998) fez do neozelandês Russell Ira Crowe uma das maiores promessas de Hollywood no resgate de um tipo de figura masculina viril, taciturna, mas repleta de contradições que o cinema americano desfilava nos tempos de Gregory Peck, Victor Mature e Kirk Douglas. Um punhado de cenas dele em "O Informante" (1999) bastam para traduzir essa ponte com a tradição. Sua interpretação magistral como general Maximus em "Gladiador" (2000) deu a ele um Oscar e consagrou definitivamente sua figura, indicada novamente à estatueta dourada em "Uma Mente Brilhante", em 2002. Crowe reinou soberano entre os finalmentes da década de 1990 e o início da década retrasada até demolir seu estrelato com escolhas infelizes e com condutas por vezes agressivas. Preservou por um tempo uma conexão com Ridley Scott, o que lhe valeu o direito de ser Robin Hood, numa aventura que abriu o Festival de Cannes, em 2010, e que lhe garantiu uma joia pouco apreciada: "Um Bom Ano" (2006). Nunca saiu de cena, mas não emplacou mais nos holofotes como antes, conquistando novos fãs aqui e acolá, como se viu em "O Exorcista do Papa", um marco do terror de 2023. Apesar de uma trajetória de muito percalço, seu talento depurou-se, como bom vinho, com o passar dos anos, como se nota em "A Teia" ("Sleeping Dogs"), que estreia neste fim de semana. É o longa-metragem de estreia na direção do roteirista Adam Cooper. Ele assina o argumento e o roteiro com Bill Collage e E. O. Chirovici, apostando numa estrutura de investigação sombria.
É um filme que se alinha a uma tendência contemporânea de produções sobre anti-heróis com Alzheimer, como se viu com Michael Keaton em "Pacto de Redenção" (2023) e com Liam Neeson em "Assassino Sem Rastro" (2022). É uma temática recorrente para se discutir o ocaso do heroísmo. Sob o tom amargo impresso por Cooper, Crowe compõe a figura do detetive Roy Freeman como um indivíduo em frangalhos. Recém-saído de um tratamento invasivo para ser capaz de reter memórias, ele tentar desvendar um assassinato que pode ter condenado um inocente à pena de morte.
Na trama, fotografada em tons dionisíacos quase bruxuleantes por Ben Nott, Freeman tenta entender quem matou o professor Joseph Wieder (Marton Csokas), espancado brutalmente. Ele era responsável por uma pesquisa capaz de fazer pessoas esquecerem seus traumas. Nada mais capcioso do que um investigador que esquece parte do que vive para correr atrás de provas que, sequência a sequência, revelam a podridão de cada envolvido.
Crowe constrói Freeman como um homem da lei resoluto, mas com a medida de sua fraqueza, num diapasão que lembra seu trabalho em "O Informante". O ator ganhou o papel de dois concorrentes de peso: Mel Gibson e Nicolas Cage. Ao assumir o protagonismo de "A Teia", ele injeta todo o carisma que tem a um policial que ainda acredita na Justiça, ainda que não seja capaz de unir resquícios da violência com a lucidez necessária. A montagem de Matt Vila dá a essa narrativa um ritmo sufocante, que lembra, em alguns pontos "Coração Satânico", de Alan Parker. Só que o Demônio aqui não vem do Inferno. Ele brota das ruas. Ele vive em corações que parecem bem-comportados.
Soa inusitado ver um thriller tão austero. Atualmente o gênero, assim como o cinema de ação, parecem infectados pelo gore. O gore é um conceito inerente ao terror, tipo a franquia "Terrifier" (do palhaço Art), no qual sangue e tripas se espalham pela narrativa, das formas mais inusitadas e grotescas, beirando a pornografia de brutalidade. Não é o caso de "A Teia", que dosa aquilo que é brutal para se verticalizar nas monstruosidades mais silenciosas da alma humana. Para Crowe, o filme é uma escolha de peso, que relembra seus melhores momentos nas telas e aponta para caminhos mais ambiciosos para seu futuro.