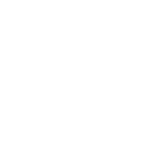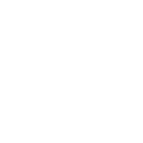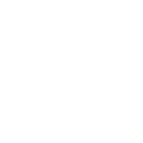Na entrada do pavilhão central da Bienal de Veneza, Adriano Pedrosa conta que já tinha na cabeça há mais de uma década a ideia que levaria à maior mostra de arte do mundo caso um dia fosse chamado a assumir o seu comando.
O chamado veio, e aquele passado se choca com o presente. Se no átrio da primeira galeria brilha um neon que dá nome à exposição, dizendo "Stranieri Ovunque", ou estrangeiros por toda parte, obra de Claire Fontaine, dupla de artistas europeus radicada na Itália, a fachada do prédio neoclássico está toda estampada com um mural do Movimento dos Artistas Huni Kuin, um coletivo de indígenas brasileiros.
Ele lembra que se "os povos originários são muitas vezes tratados como estrangeiros em sua própria terra", somos todos estrangeiros em algum grau, rodeados de outros estrangeiros, não importa onde estivermos no mundo.
O estrangeiro, no caso, roça o estranho, uma aproximação linguística que Pedrosa gosta de frisar. Nesse ponto, o elenco superlativo desta 60ª Bienal de Veneza, com 331 nomes, o dobro do habitual, está formado por aqueles que de fato deixaram sua terra natal para rodar o mundo, em migrações forçadas ou não, aqueles que se identificam como queer, de corpos ou sexualidades ditos desviantes, os chamados outsiders, artistas autodidatas distantes dos cânones de sua época, e indígenas de todo o planeta.
Desde que Pedrosa, também diretor artístico do Masp, em São Paulo, foi escalado para comandar a mostra italiana, um certo frisson atravessa o chamado sul global, na expectativa de que o primeiro latino-americano no cargo em mais de um século de história do evento levaria ao centro do mundo da arte figuras nunca vistas da periferia do planeta.
O mercado também ficou eriçado com a chance de estampar o cobiçado carimbo de Veneza no passaporte de artistas que antes circulariam com muita dificuldade pelos centros do alto escalão da economia de galerias e leilões. "Muitos são figuras conhecidas, canônicas em seus países, mas desconhecidas em outros lugares", diz Pedrosa. "Pensei no que era importante mostrar aqui, porque sei que isso é um ponto de inflexão na vida de um artista e muda a vida deles."
Ou a morte, no caso. A maioria dos nomes escalados para a mostra já morreu. Em grande parte, são figuras que marcaram as correntes modernistas do início do século passado, entre eles o cubano Wilfredo Lam, os mexicanos Diego Rivera e Frida Kahlo, os brasileiros Candido Portinari, Cícero Dias, Emiliano Di Cavalcanti, Ismael Nery, Maria Martins e Tarsila do Amaral, o venezuelano Armando Reverón, o uruguaio Joaquín Torres-García e o indiano Francis Newton Souza, para pinçar nomes famosos.
Mesmo antes da abertura da mostra para os jornalistas e os VIPs, Pedrosa já vinha rebatendo críticas de que sua exposição de arte contemporânea olhava mais para o passado do que para o presente, uma seleção mais com cara de museu empoeirado do que uma constelação de "new faces", digamos, pronta para entrar no radar da crítica e do público. Não há problema nisso, mas há maneiras e maneiras de construir diálogos poderosos com o passado, longínquo ou próximo.
"O modernismo viajou muito pelo mundo. Foi devorado, canibalizado", diz Pedrosa. "E muitos artistas viajaram por muitos modernismos." Os momentos históricos da mostra, destacados dessa forma e encerrados em espaços à parte, de fato deixam isso nítido - e não deixam de impressionar, apesar do excesso, pelo efeito de comparação sublime entre exercícios estéticos tão próximos apesar de construídos a distâncias tão grandes.
Pedrosa, que costuma dizer que não há regras para a construção de uma exposição, seguiu obediente o seu próprio manual em Veneza. A fórmula de sucesso, aclamada mundo afora por corroer a rigidez dos museus a partir de dentro, transformando acervos e reinventando montagens, agora é posta à prova fora do museu, e no maior palco do planeta.