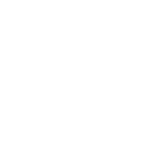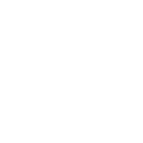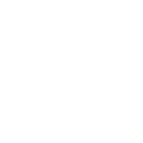Voltaire (1694-1778) foi lúcido ao avaliar o mundo que viria a produzir a Revolução Francesa 11 anos depois de sua morte: "Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande". Catártico em suas exuberantes tomadas de batalha, esmagador em seu ensaio de desmitificação intimista, o belo "Napoleão", de Ridley Scott pode ser mesurado por essas duas frases, calçado na engenharia de efeitos visuais e efeitos especiais mais refinada que o diretor apresenta à telona desde seu inesquecível "Gladiador", lançado em 2000. O homem que Joaquin Phoenix esculpe com a espátula do mistério e o martelo da implosão não é um guerreiro flamboyant que se apavona a cada vitória, tampouco um monarca moleque, todo pimpão por ter o reinado francês sob seus ombros. Da mesma maneira como se ouvia em "Conan, o Bárbaro" (1982), de John Milius, o mestre da guerra estruturado por Ridley a partir do roteiro de David Scarpa custa a colocar "uma coroa sob sua pesada cabeça". Quando o faz, estende ao trono a política que aplicava no front: o populismo.
Eternizado num filme francês seminal de 1927, rodado por Abel Gance (1889-1981), Napoleão Bonaparte (1769-1821) foi um estrategista que alcançou múltiplos sucessos em batalhas com sua forma de aplicar lógicas geométricas na distribuição de seus canhões nos embates que travou em terras eslavas, africanas e mesmo em sua pátria. Ridley recria essa estratégia com o apoio de uma montagem equilibrada, que aproveita cada gota de adrenalina da mesma forma como valoriza cada palavra dos diálogos de Scarpa. É difícil não alocar o longa-metragem numa trilogia de reconstituições históricas de alto relevo estético na obra do realizador, como "O Último Duelo" (2021) e "Os Duelistas", pelo qual ele recebeu a láurea de Melhor Filme de Estreia em Cannes, de um júri chefiado pelo neorrealista Roberto Rossellini (1906-1977). São três olhares sobre a vaidade em contextos de capa & espada.
Scarpa explora o lado vaidoso de Bonaparte sempre em relação à paixão voraz que ele tem pela França, num projeto de fazer dela o Sol da Europa no início do século XIX, no rescaldo do processo revolucionário de seu país. Há uma segunda paixão, Joséphine, mulher que vira sua bússola afetiva, ainda que nem sempre o mantenha nos rumos de um norte de calmaria. A atriz Vanessa Kirby faz dela uma figura empoderada, que desafia a obsessão de Napoleão em ter um herdeiro e ter o controle de todas as relações.
Amar bagunça seu coração, mas não tira seu foco do desejo de tornar o reino francês o centro da Terra. Esse foco se estabelece depois de sua gloriosa campanha no Egito e de seus avanços pelo gelo da Rússia. Mesmo gelo invernal que, mais adiante, há de congelar seu prestígio. É o encontro com o Duque de Wellington (numa interpretação luminosa de Rupert Everett) que soterra de uma vez a sua glória, numa troca de tiros e em duelos de espada fotografados com luzes plúmbeas pelo polonês Dariusz Wolski. A direção de fotografia dele - habitual parceiro de Ridley - é o grande trunfo do longa, que não larga de mão a analogia entre Bonaparte e toda uma linhagem de governantes populistas, incluindo Trump e Bolsonaro.
Como eles, o Bonaparte de Phoenix enxerga numa filosofia belicosa o estratagema para levar o povo na lábia e transformar pobres em seu gado. Vender a ideia de que massacrar adversários é uma trilha de grandeza faz dele um mito. Vimos essa história no Brasil. Vimos onde ela acaba. Vimos seus estragos. A França de Ridley Scott vê também. Cada pólvora queimada esfumaça o brio de uma pátria submissa a um projeto de força. Cena a cena, ao expor fragilidades que tiram de Napoleão sua retidão heroica, Ridley revela o quanto essa (vontade de) potência pode nunca se concretizar como ato, limitando-se a delírios. Delírios que ceifam vidas.
Empenhado hoje no projeto de filmar um faroeste, além de aparas de "Gladiator 2", filmado em Malta com Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, Ridley alcança em "Napoelão" o momento de maior harmonia em sua relação com as ciências sociais sem perder a dimensão de espetáculo que fez dele um Midas nas bilheterias. Embora "Blade Runner" (1982) e "Alien: O Oitavo Passageiro" (1979) sejam seus longas de maior culto, "Chuva Negra" (1989) já deixava evidente que, em sua cabeça, existe um analista do ódio, um estudioso da barbárie. Napoleão é seu Conan de farda. O Conan populista.