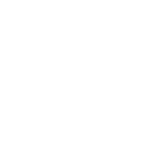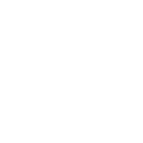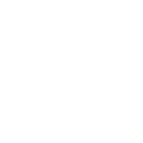Em algum lugar de 1977 eu caminhava com meu pai pelas imediações do Cine Vaz Lobo, quando compramos figurinhas para um álbum chamado Multicolor, que ele fazia ou eu, não sei. Estávamos juntos. Ao chegarmos em casa, abrindo os pacotinhos, vi um nome do qual nunca mais me esqueci: Bob Dylan, hoje certamente o maior artista estadunidense vivo. E muitos anos depois foi Dylan quem me deu o caminho para Jack Kerouac, uma longa estrada à qual eu voltaria anos depois até me tornar escritor publicado.
No célebre apartamento de certo prédio na Figueiredo Magalhães, ventrículo de Copacabana, Fred me esperava com o álbum "A Trick of the Tail", do Genesis. Eu tinha medo da capa, mas gostei do som.
Entre os dois acontecimentos, lembranças da propaganda na TV do programa Rock Concert.
E não parei. Anos depois eu estava com a multidão pra ver o Kiss no Maracanã lotado, 1983. Música na rádio todo dia. Namorar os discos na porta da Billboard. Acompanhar o Fred ao Disco do Dia, no Centro Comercial de Copacabana, quase esquina de Siqueira Campos com a avenida. Tinha fila para comprar LPs. The Cure e Metallica no Maracanãzinho, Jethro Tull no Canecão; Titãs, Paralamas e Barão por todo lado; Joe Cocker no Maracanã, Prince, Paul McCartney. Oingo Boingo na Gávea. Dylan na Apoteose, Clapton e Bowie também. Mano Negra e Jello Biafra na Lapa.
Desde o fim dos anos 1980 mergulhei em sons e gêneros. Hoje comprei um CD de percussão árabe. Fui ao samba, à bossa, ao jazz, cubanos, europeus, África, Ásia, minha coleção tem de tudo. E sou feliz por isso. Ouço música diariamente com a mesma empolgação daquele garoto sonhando na porta da loja com "1984" do Van Halen ou "Brothers in Arms" do Dire Straits. Voei meu mundo ouvindo música, mas quem me deu as asas? O rock.
Pra contestar, protestar, namorar, se entristecer, pensar, estudar. Álbuns como os do Clash, do Pink Floyd, do Rage Against The Machine, de Peter Gabriel, todos fazem pensar e buscar outras fontes: livros, filmes, quadros, peças.
O rock mudou muita coisa no mundo, ainda que nem todos entendam e achem que faz sentido ser roqueiro e reacionário. O rock é revolucionário, desafiador de definições, demolidor de barreiras. Foi ele quem deu chance às expressões de combate ao racismo e à homofobia: basta pensar em Little Richard, para quem os jovens Rolling Stones abriram shows. E o rebolado incomparável de Elvis Presley? E as loucuras de Jerry Lee Lewis?
Neste momento a TV mostra um prisma grandioso no palco do show de Roger Waters. É um símbolo que atravessa o mundo há 47 anos: até mesmo quem nunca ouviu o Pink Floyd já viu aquela capa preta, uma obra de arte do século XX.
Rock é postura, atitude, celebração, catarse coletiva. Os grandes barões do gênero são sexagenários, septuagenários e outros já deram adeus. Mas todos ainda encantam e influenciam milhões de pessoas mundo afora. O rock não vai morrer, não vai acabar. Em tempos de ódio e indiferença, no meio de uma pandemia, diariamente alguém passa pela minha lojinha e saca um AC/DC, Deep Purple ou Joelho de Porco. Ou Ira! ou Tortoise. Tanto faz se é Premê ou Replicantes, Fellini ou Autoramas. O rock é pra abalar o óbvio e sacudir comodismos.