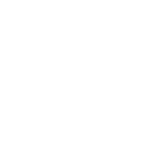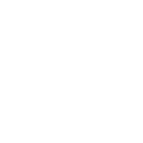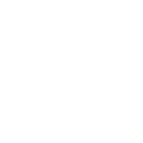É dia de a seleção internacional de curtas-metragens indicados à Palma de Ouro do formato entrar em campo no gramado de Cannes, tendo o Brasil de artilheiro, representado por André Hayato Saito, no jogo com o filme "Amarela". Sua trama se passa em São Paulo, em julho de 1998, no dia da final da Copa do Mundo contra a França. Naquele domingo, Erika Oguihara (a atriz Melissa Uehara), uma adolescente nipo-brasileira que rejeita as tradições de sua família japonesa, está ansiosa para comemorar um título mundial pelo seu país.
Em meio a tensão que progride durante a partida, Erika sofre com uma violência que parece invisível e adentra em um mar doloroso de sentimentos. Na conversa a seguir, passando por sua ancestralidade, Sato fala ao Correio da Manhã sobre formas de exclusão.
Qual é a dimensão de intolerância que a trama de "Amarela" discute?
André Hayato Saito: Eu acho difícil falar em dimensão de intolerância, pois isso sempre depende da régua que a gente usar. O que eu posso dizer é que, para os mais de dois milhões de asiáticos brasileiros e para os filhos de outras diásporas no Brasil, é muito comum o sentimento de não pertencimento. Agora, de uma maneira mais prática, na época da covid-19, houve um aumento significativo na intolerância, xenofobia e racismo contra pessoas amarelas. Ainda que pareça invisível, é algo que acontece frequentemente.
Como foi desenhada a produção, onde foi rodada e em quanto tempo e com que tamanho de equipe? O que esse esforço coletivo te ensinou sobre fazer filmes?
O curta surgiu como um protótipo do longa-metragem "Crisântemo Amarelo", que já estava escrito. Pegamos os mesmos personagens, desenhamos a produção no formato de curta e rodamos em São Paulo, em cinco diárias. Foram mais de cem pessoas envolvidas e a equipe foi predominantemente de pessoas amarelas. Esse esforço coletivo me ensinou tanta coisa... Humildade de pedir ajuda, persistência para não desistir, coragem de errar. E também sentir na pele o que a representatividade nas telas pode trazer tanto para o processo como para o resultado. Houve muita troca de confiança entre os integrantes da equipe, que por ser majoritariamente asiática-brasileira, fez a gente se sentir pertencentes e reconhecidos. Eu nunca tinha visto tanta gente parecida comigo em um set de filmagem. Outra lição importante foi a de tentar colocar nossas emoções mais profundas para fora. Retratar nossas dores, traumas, sombras e belezas, transformando isso em uma arte coletiva como o cinema, tem um potencial incrível de transformação.
Por que a escolha de 1998? O que o ano norteia na trama?
Escolhi 1998 pois eu tinha 14 anos na época, a mesma idade da protagonista. Era a final da Copa do Mundo e o Brasil levou de 3x0 da França. Foi muito traumático para mim, que amava futebol e o usava inconscientemente como ferramenta de pertencimento, pois através dele eu me sentia brasileiro. Podia gritar pelo meu país e torcer junto a todos os outros. Houve todo aquele suspense envolvendo o Ronaldo, algo super marcante e inesquecível. O craque da seleção acabou indo para o hospital, e todas aquelas teorias da conspiração emergiram. Foi um momento muito tenso e eu queria retratar vários níveis de violência, queria mostrar também uma São Paulo cinza e depressiva, um Brasil triste não só pela Copa, mas por diversos outros motivos. Eu senti que este clima de tensão poderia agregar mais uma camada da violência que estava no ar.
Como você avalia a responsabilidade de defender o Brasil na disputa de curtas de Cannes?
É uma responsabilidade grande. Fomos selecionados entre 4420 curtas-metragens do mundo todo e somos o único representante da América Latina na categoria. Ao mesmo tempo, é muito emocionante poder representar o meu país contando uma história amarela, feita por pessoas amarelas, para o público mundial. Por meio deste recorte, do asiático-brasileiro, sinto que estamos falando sobre o sentimento de não pertencimento de muitas diásporas ao redor do mundo. Para os filhos e netos de imigrantes, é muito comum se sentir esse lugar de nem de lá, nem de cá. Esse lugar de residir na fronteira.