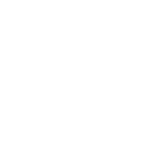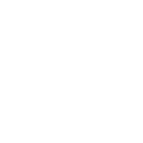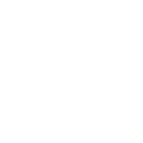De uma quietude acachapante em seu terço inicial, flanando por um terreno espinhoso de viradas de roteiro, "Longlegs: Vínculo Mortal" é uma aula (com direito a nota A, com louvor) de suspense, num flerte bastante equilibrado com o terror. Atraiu atenções da mídia ao virar um sucesso retumbante apesar do orçamento mirrado de que dispôs (US$ 10 milhões) para ser rodado e fazer publicidade. Arrecadou já US$ 101 milhões, tornando-se um dos títulos mais rentáveis do ano, apenas no boca a boca, enredando o público e a crítica em igual (e inusitada) medida, sendo comparado a "O Silêncio dos Inocentes" (1991).
Seu diretor é o ator Osgood Perkins, antes notabilizado com "A Enviada do Mal" (2015). Chamava atenção o fato de ser filho do astro Anthony Perkins (1932-1992), o eterno Norman Bates de "Psicose" (1960). Hoje, o que mais atrai a mídia diante de qualquer menção a seu nome é a habilidade que o cineasta teve de realizar um thriller a um só tempo estilizado e sóbrio, de atmosfera sinistra, extraindo de um intérprete de imagem surrada, Nicolas Cage, uma atuação dos diabos - literalmente. Osgood devolveu viço a um mito de trajetória sinuosa.
Associado a narrativas transgressoras no início de sua carreira, entre elas "Coração Selvagem" (Palma de Ouro de 1990), Nicolas Kim Coppola (sobrinho de Francis Ford) assumiu a palavra Cage como seu sobrenome artístico e construiu, ao longo da década de 1990, uma das carreiras mais invejáveis de Hollywood naqueles (e em muitos) anos. Alternando pipocas classe B, protótipos de family film e thrillers desconfortantes, ele viu sua sorte mudar ao conquistar o Oscar por sua sufocante atuação em "Despedida em Las Vegas", em 1996. Era difícil não sair da sala de exibição devastado pela saga de um roteirista que resolve beber até morrer, apaixonando-se por uma garota de programa em seu calvário. O lema de seu personagem: "A vida tira tudo de alguns a prazo e de outros, como eu, ela tira tudo à vista". É uma filosofia catastrofista que, associada à imagem inquieta de Cage, ganhava nobreza (e profundidade) na tela.
Foi assim até os estúdios enxergarem nele mais do que uma estrela de títulos provocativos do cinema indie, encarando em seus olhos arregalados um potencial astro de blockbusters. O primeiro arrasa-quarteirão de sua cepa foi "A Rocha" (1996), pérola de Michael Bay hoje menos valorizada do que deveria. No ano seguinte, Cage massacrou a concorrência com "Con Air: A Rota da Fuga" e "A Outra Face", que além de lucrar uma baba, virou cult. Nesse percurso, grandes diretores foram atraídos por seu talento, vide Brian De Palma, Martin Scorsese e Werner Herzog. Ponha nesse bonde ainda Spike Jonze, Ridley Scott e David Gordon Green.
Tudo ia bem até 2011, quando, abalado por problemas pessoais, Cage entrou numa espiral de escolhas infelizes, aceitando roteiros nada sofisticados para manter sua conta bancária no azul. Emplacou acertos sazonais como "Mandy: Sede se Vingança" (2018) e "Pig - A Vingança" (2021), mas nada que chegasse aos pés do êxito (e do refinamento) de "Longlegs".
Amparado na aeróbica de câmera do diretor de fotografia Andrés Arochi, com direito a planos quadrangulares, supercloses e muita grande angular, "Longlegs" disseca, camada após camada, as angústias existenciais da agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe, em febril e inspirada atuação), designada para investigar uma série de mortes brutais alinhavadas símbolos de natureza satânica. Em frias paragens do Oregon, ela vai descobrir o pior de si, de seu passado, de seu ofício, com um complicador a mais em sua rotina: o fato de apresentar um certo grau de clarividência, mais próximo de uma sensitividade. O dom a leva a ter certezas (bem embasadas) onde seus colegas apenas têm suspeitas, mas faz dela um ser estranho em sua corporação.
Rodado em Vancouver, no Canadá, o filme é ambientado por Osgood na era Bill Clinton, ali pelos idos de 1993 ou 1994 (nada é devidamente datado), com um prólogo nos anos 1970, quando Lee é criança. Menina ainda, aos 9 anos, ela travou contato com um sujeito de alvíssima expressão facial, de falar estridente, dado a cantorias e a falas enigmáticas. Tudo leva a crer que esse homem seja Dale Kobble, um satanista que assume a alcunha de Longlegs. Essa criatura, construída no roteiro de Osgood como um monstro com feições de pierrô, arranca de Cage uma interpretação suntuosa, capaz de explorar seus cacoetes de atuação mais irritantes.
Não há certezas de quem Kobble seja ou do que fez, mas ele pode ser a chave para entender uma série de massacres nos quais pais de família são levados a executar sua prole brutalmente (a machadadas até), em circunstâncias que envolvem símbolos ligados ao culto ao Demônio. Cada um desses assassínios envolve clãs nos quais há entre seus integrantes uma menina, mas sempre uma garota prestes a completar 9 anos, e que aniversaria no dia 14 (seja de que mês for). Lee começa a analisar esses códigos mortais sempre pelo prisma da estranheza, até ser contemplada com uma carta do próprio Longlegs. A partir dessa correspondência, ela se dá conta de que pode ser parte daquele esquema diabólico. Só lhe resta, a contragosto, acionar sua mãe, figura soturna em seu fervor religioso, chamada Ruth, e vivida com sutileza por Alicia Witt.
Essa personagem redesenha a trama de Osgood para si, em uma das muitas (e surpreendentes) reviravoltas, da qual nada se deve falar, para deixar a plateia descobrir por si os segredos do enredo - e se deleitar com eles. A maior solidez do cineasta é abrir um debate sobre a adoração do Mal numa sociedade tão belicosa quanto a americana.