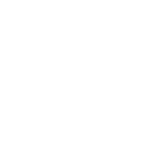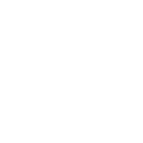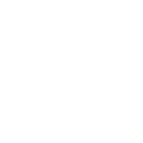Se você assina a Amazon Prime, ou passa por lá vez por outra para alugar filmes, dá pulo no cardápio dessa plataforma digital e selecione "Raiva" (2018), iguaria em preto & branco de Sergio Tréfaut, premiado nos festivais de Moscou e de Sevilha. Sua áspera abordagem dos desajustes sociais nos campos do Alentejo - inspirada pelo romance "Seara de Vento", de Manuel da Fonseca - basta para que o público carioca compreenda o motivo de o Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) ter cedido sua tela grande para uma retrospectiva da obra de seu realizador.
Batizada de "Regresso ao Brasil", a mostra segue até 11 de outubro, sempre às quartas-feiras, com sessões às 17h30 e 19h, seguidas de debate. O melhor de Tréfaut está lá. Nascido em São Paulo, sob ascendência lusa, ele é encarado como um dos mais requintados poetas da imagem da língua portuguesa, levantando suas produções a partir de Lisboa.
No auge da pandemia, Tréfaut tomou de assalto o É Tudo Verdade (maior maratona documental das Américas) com o lúdico "Paraíso" (2021), retratando idosos que se reinventam (e resistem) no Museu da República. No ano seguinte, surpreendeu Veneza com o tratado geopolítico "A Noiva". Já tem mais uma leva de projetos a caminho para cartografar incongruências existenciais, morais e sociológicas do mundo, agora sintonizado com a Pangeia latina.
Na semana que vem, o CCJF exibe o já citado "Raiva" em tela grande (oportunidade única de as plateias do Rio conferirem todo o viço fotográfico desse longa) e "Treblinka" (2016). Na entrevista a seguir, Tréfaut explica as trilhas estéticas que balizam suas narrativas.
Que fronteiras se impõem entre real e ficcional na sua construção dramatúrgica?
Sergio Tréfaut: Fiz mais documentários do que ficções e é verdade que todos os meus longas ficcionais são ancorados na realidade. Falam de pessoas reais e problemas contemporâneos. Gosto de observar e de pensar o mundo que me rodeia. Foi o que fizeram Joris Ivens e Eduardo Coutinho no documentário, mas também Buñuel, Pasolini e Glauber Rocha na ficção. São grandes referências. Falar de construção dramatúrgica é pertinente, mas não tenho receitas. Quero sempre propor ao espectador uma viagem de descoberta a um universo inesperado, seja um cemitério habitado no Cairo, um campo de prisioneiros no Iraque, os jardins do Palácio do Catete, uma Lisboa feita de migrantes, a minha própria família ou até universos do passado, como a Revolução dos Cravos ou os campos de extermínio nazistas. Faço filmes livres no que diz respeito à forma e acredito que o documentário é tão construído e conceitualmente elaborado quanto a ficção.
O que o seu cinema carrega de brasilidade e de "lusitanidade"?
Quero acreditar que a minha necessidade de trabalhar as emoções e a música vem de um arquétipo cultural brasileiro. Em contrapartida, a liberdade formal, muito distante da linguagem televisiva, é claramente herdeira do cinema português. Essa liberdade também existe no Brasil, mas é difícil de conquistar.
Qual é o percurso pessoal que a retrospectiva do CCJF traça e que descobertas de linguagem você fez ao largo dela?
A mostra reúne obras que vão desde o meu primeiro curta de ficção, "Alcibíades" (1992), estreado em Locarno, até o último longa, "A Noiva" (2022), estreado em Veneza. São quase trinta anos de trabalho, durante os quais não parei de aprender. Eu me formei em Filosofia na Sorbonne e fui jornalista em Lisboa, mas não estudei cinema. Fui aprendendo. Creio que isso se sente nos meus filmes. Desde o início procurei fazer pensar e provocar o espectador, numa variável dose de fantasia e de realidade. Ao olhar para trás, constato que a maioria dos meus filmes são retratos coletivos, ou retratos a várias vozes, oferecendo uma visão caleidoscópica do mundo.
Seu cuidado com a fotografia é uma característica que se destaca em seus filmes e aponta uma farta potência formal.
O meu cuidado com a fotografia e com o tempo cinematográfico foi crescendo ao longo dos anos. Creio que no início eu respondia sobretudo a uma urgência de expressar ideias. Pouco a pouco, o tempo cinematográfico foi me conquistando. "Lisboetas" é o primeiro documentário que teve estreia comercial nos cinemas. Ficou mais de três meses em cartaz com salas esgotadas em Portugal. Apesar de abordar uma questão política (a imigração), é um filme poético, musical, com tempos dilatados, inspirado no trabalho de Pina Bausch. "Viagem a Portugal", com imagem do mestre Edgar Moura, é o meu primeiro filme em que a fotografia (deliberadamente minimalista) cumpre o objetivo de reproduzir em cinema o trabalho do mestre Richard Avedon. Desde então, todos os meus filmes foram mais exigentes a nível fotográfico.
De que maneira as atuais políticas culturais da Europa e do Brasil favorecem a criação de uma obra autoral independente como a sua?
Tenho mais experiência na captação de recursos em Portugal. Foi onde produzi todos os meus filmes até agora (algumas coproduções com a França, com Espanha e Brasil). Mas, morando no Brasil e abordando cada vez mais temas brasileiros ou sul-americanos, tenho de diversificar a minha forma de financiamento. Até porque é muito possível que Portugal deixe de financiar meus projetos. No Brasil sou pouco experiente. Após os anos Bolsonaro, marcados pela paralisia da Cultura, sinto que estamos num outro momento de grave crise para o cinema. Existem muito mais projetos interessantes do que capacidade de financiamento e, sobretudo, de exibição. O mais grave é que não existe uma regulamentação do streaming que vise a favorecer a produção brasileira. A política de exibição de filmes em sala e a política de taxação do streaming são gravemente desfavoráveis ao cinema brasileiro.