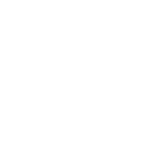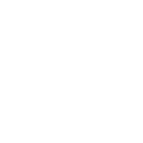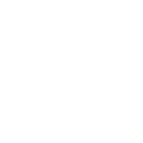Laureada com um Oscar, em 2003, por seu desempenho no papel da escritora Virgina Woolf (1882-1941) em "As Horas", a australiana nascida em Honolulu Nicole Mary Kidman buscou se reinventar muitas vezes desde que tomou Hollywood de assalto em "Dias de Trovão" (1990), aos 23 anos. A possibilidade de virar uma estrela formatada para os moldes de uma indústria de bases moralistas foi descartada por ela já em 1995, em sua escalação para "Um Sonho Sem Limites", de Gus Van Sant. Brilhou na figura de uma predadora avessa ao provincianismo de sua cidade. Antes, no pouco lembrado "Malícia" (1993), de Harold Becker, ela já havia flertado com a perspectiva do desejo incontinente que gera ruína, mas era uma produção pequena, que só fez barulho nas videolocadoras. Sem dizer não às superproduções ("Batman Eternamente", "A Bússola de Ouro", "Aquaman"), ela evoluiu na carreira interessada na temática da incontinência sexual (com gozos ou com frigidez) arriscando filmar com um dos mais respeitados realizadores da História, Stanley Kubrick (1928-1999), que a dirigiu em "De Olhos Bem Fechados" (1999), ao lado de seu ex, Tom Cruise. Parecia que toda a angústia relativa aos represamentos na alcova vigentes na sociedade anglo-saxã havia se esgotado naquele cult, mas agora, "Babygirl", da holandesa Halina Reijn, vem provar que não. Com essa produção de US$ 20 milhões, indicada ao Leão de Ouro de Veneza, Nicole se desconstrói uma vez mais, corajosamente.
Saiu da terra das gôndolas com o troféu Copa Volpi e disputou o Globo de Ouro com Fernanda Torres (que o ganhou, por "Ainda Estou Aqui") por seu desempenho numa nova trama de tesão à flor da pele, só que, desta vez, mediada pelo olhar de uma mulher... de uma diretora. Disse "sim" ao script, escrito pela própria Halina, em parte por isso, pela sororidade. A cineasta formou-se à luz da dramaturgia de Henrik Ibsen (1828-2016), após anos dedicados a múltiplas montagens de "Hedda Gabler" nos palcos europeus. Inspirada pelo teatro dele, desenvolveu interesse por quereres engessados e por fantasmas forjados pelos interditos sociais.
Já escolada na TV e no cinema nos Países Baixos, trabalhando no audiovisual desde 1993, ela passou a dirigir filmes em 2019, com "Instinto" (hoje na grade da plataforma MUBI). Estreou propondo desafios ao politicamente correto, ao retratar uma psicóloga carcerária que enreda um preso acusado de agressão sexual, criando dependência carnal e emotiva num espaço de interdições legais. Halina desafiou tabus de novo (agora também comerciais) ao se enveredar pelo terror de veia pop, com twists de humor, no thriller "Morte, Morte, Morte", de 2022, a debochar dos padrões do moralmente proibido.
Seu foco, por trás das câmeras, está sempre nas mulheres e na forma como elas se deparam com situações em que toda a solidez de suas vidas pode ruir. Percebe-se isso em "Babygirl", no momento em que a CEO Romy Mathis (vivida por Kidman e dublada no Brasil por Miriam Ficher), percebe-se enredada por uma ciranda hormonal que criou para sair da inércia e, sobretudo, exercitar sua potência de controle.
Filme mais foucaultiano do momento, capaz de traduzir ideias escritas em "Vigiar e Punir" (sobretudo as reflexões de Michel Foucault sobre a introjeção da vigilância), esse avassalador estudo de personagem feito por Halina ganhou força na Oscar Season atual sob a promessa de mostrar Kidman como jamais se viu, numa composição dramática surpreendente. Tal proposta é um exagero. De quem fez "Dogville" (2003), só o que se espera é surpresa, até pelo fato de ela perseguir trilhas inusitadas em terrenos (supostamente) heroicos, vide o fenômeno de bilheteria "Os Outros" (2001), em projetos indie ("O Peso do Passado") e até em chanchadas ("Esposa de Mentirinha"). Não foi por acaso que o júri do Festival de Cannes de 2017, presidido por Pedro Almodóvar, deu a ela uma honraria que pouquíssimas estrelas (Catherine Deneuve é das raras) tem: o Prêmio Especial do Aniversário do Evento, no caso o troféu de 70 Edições (Prix du 70ème). A láurea, anunciada a ela por Will Smith (então um dos jurados de Cannes), foi um fino reconhecimento de sua aposta na diversidade e na parceria com cineastas autorais (Werner Herzog, Jane Campion, Sofia Coppola, John Cameron Mitchell) e, agora, Halina.
Sob a batuta dela, Kidman interpreta Romy com base num estratagema de fruição, submissão e arrependimento estruturado a partir de uma reflexão sobre os thrillers eróticos dos anos 1990. O formato serve de gênese ao roteiro estruturado por Halina, mas revisitado sob um senão: "Naquela década, nessa linhagem de longas, alguém sempre morria e alguém sempre era punido, quase sempre as mulheres. O que eu busquei foi uma mirada feminina numa ótica existencial", disse a diretora, em papo via Zoom promovida pela Golden Globe Foundation.
Sob a fotografia cálida de Jasper Wolf, amplificada por uma montagem taquicárdica (editada por Matthew Hannam), Nicole implode em cena, numa interpretação radical expondo o calvário sentimental de Romy, iniciado quando a executiva passa a ter um romance com um estagiário, Samuel (Harris Dickinson, de uma retidão invejável). O casamento dela com o diretor de teatro Jacob (papel de um apagado Antonio Banderas) flui com equilíbrio e (aparente) harmonia, com gozos que ela complementa com masturbações. Tudo no lar deles parece obedecer a parâmetros de respeito até a trombada com Samuel. Do primeiro beijo à primeira transa, tudo entre eles se pavimenta com o cimento do descontrole - da parte dela.
A presença do rapaz desarranja suas certezas. A partir desse desacerto, a Halina detona vários arquétipos da masculinidade, mas também do empoderamento feminino, e o faz com destreza.