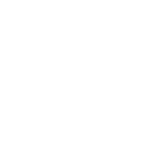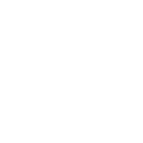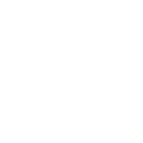O fim de um ciclo, a continuidade da vida, uma menina carioca em crescimento, a pulsação de uma cidade ensolarada - e encalorada - com seus personagens permeiam as 38 crônicas inéditas de Marcelo Moutinho reunidas em "O Último Dia da Infância" (Malê, R$ 62), que será lançado neste sábado (25), a partir das 14h, no Alfa Bar (R. do Mercado, 34), com o grupo Sambachaça comandando a roda de samba. A observação do cotidiano urbano por vezes ultrapassa limites, chegando a Salvador e a Buenos Aires, mas a busca do 'flaneur' pelas pequena curiosidades do cotidiano irradia a beleza de cenários decadentes, porém vívidos.
O belo título se refere a uma expressão de Antônio Maria, um dos cronistas citados por Moutinho, e se refere à repentina morte de sua mãe, na crônica inicial. O tom melancólico é quebrado no último texto, em que Lia, a filha do escritor, descreve, em carta à avó, seu dia a dia, seus gostos e a dúvida em saber qual sentimento nutre por quem morreu quando era pouco mais que um bebê, há quase dez anos. "O livro começa na morte e termina na vida, começa na clausura da pandemia e termina na rua, sob a plenitude aliciante do sol", diz Marcelo nesta entrevista para o Correio da Manhã, em que discorre sobre esse gênero literário que, para ele, sobrevive graças à Internet.
O livro abre com o relato da morte de sua mãe e se encerra com a carta de Lia para a avó que mal conheceu. Essas declarações de amor profundo a duas mulheres, uma que se foi, outra que se forma, fecham um ciclo?
Marcelo Moutinho - Fecham um ciclo e abrem outro. Nós nascemos porque outros, os que vieram antes, saíram de cena. E nossos filhos são a continuidade disso. De certo modo, neles estamos nós, os nossos pais, os nossos avós, as casas por onde passamos. Lembrar é uma forma de não deixá-los morrer, ainda que os corpos tenham perecido. A morte, no fundo, é o esquecimento.
Atualmente, os cronistas perderam espaço para os colunistas que analisam fatos. A crônica vai sobreviver nesses tempos internautas ou morrerá junto com os blogs?
São poucos os colunistas de jornal que fazem, efetivamente, crônicas. Na ampla maioria, seja nos sites, seja nos veículos impressos, as colunas estão ocupadas por artigos que comentam, de forma opinativa, as notícias do momento. A crônica hoje está muito mais presente é na Internet mesmo, sobretudo dentro das newsletters, um suporte que foi uma marca do começo dos anos 2000, depois sumiu e agora voltou com força total. Então diria que o gênero se mantém vivíssimo, apesar de tantos vaticínios de morte.
A crônica atual raramente se detém sobre peculiaridades divertidas do cotidiano. São raros os cronistas que mantêm um olhar irônico. É um reflexo da contemporaneidade mais analítica do que sentimental?
Tento me manter alheio aos modismos, que não raro rebaixam a literatura, apagando nuances e complexidades, priorizando tipos, em vez de personagens, buscando certo apaziguamento do leitor. Ao dar ao leitor o que ele já espera, produz-se uma sensação autocongratulatória, às vezes bem moralizante também. Hoje o assunto é tal, amanhã se torna outro. Mas, afinal, nós escrevemos por quê? Por um ímpeto sincero, e absolutamente íntimo, ou para suprir as pautas reincidentes dos suplementos culturais? A literatura é, para mim, um território de liberdade. A prevalência dos textos analíticos sobre os irônicos está ligada a uma perspectiva recente segundo a qual a análise é superior à divagação. E, quando se trata de crônica, isso está longe de ser uma verdade.
A crônica seria a maior expressão desse encantamento que nutrimos por uma cidade onde as desigualdades gritam a cada calçada, mas a alegria e festividade superam as desgraças de todo dia?
Há uma ligação profunda entre a crônica e o espaço urbano. No caso do Rio de Janeiro, talvez essa ligação seja ainda mais acentuada. Foi aqui, de José de Alencar a Rubem Braga, passando por João do Rio, Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector e tantos outros, que o gênero se formatou, ganhando as marcas singulares que o caracterizam no Brasil. E, sim, creio que esse paradoxo que fundamenta o Rio - uma cidade "bonitinha e má", como disse o Nei Lopes - acaba por oferecer muita matéria-prima para o cronista. O Rio tem a vocação da rua, e é na rua que a crônica nasce. A história de todas as cidades pode ser contada também pela crônica. No Rio, que foi capital e centro nervoso do país, essa máxima se torna ainda mais evidente. Se o historiador ilumina os processos sob uma lente macro, o cronista vai escavar as pequenezas. Podemos analisar a reforma urbana que redundou na abertura da Avenida Central (hoje, Rio Branco) a partir dos estudos de historiadores como Nicolau Sevcenko. Mas também examiná-la sob a lente das querelas entre Lima Barreto e Coelho Neto, ou da percepção ambígua de João do Rio. São olhares que se complementam.
O calor infernal da cidade com duas estações - "Quente" e "Mais quente ainda" - torna-se personagem em um ou outro de seus textos. Como você definiria o carioca: movido ou premido pelo calor?
Movido e premido. A gente reclama, porque não é fácil mesmo, mas o calor é um elemento fundamental na relação do carioca com a rua. Gostamos de eventos ao ar livre, de mergulhar no mar, de tomar cerveja na calçada. E desaparecemos se a chuva aparece. O próprio Machado de Assis brincava com essa ideia. Em "O nascimento da crônica", texto de 1877, ele diz que a crônica surgiu quando duas vizinhas, "entre o jantar e a merenda", sentaram-se à porta e começaram a reclamar do calor. Onde? No Rio, é claro.