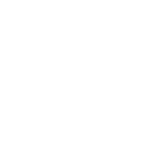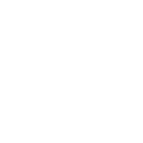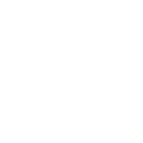Por Rodrigo Fonseca
Especial para o Correio da Manhã
Doido para ver "Estranha Forma de Vida", o curta-metragem de faroeste de Pedro Almodóvar, que estreia nesta quinta-feira, Eucanaã Ferraz reage ao título do novo trabalho do cineasta de quem é fã menos pela referência à aspereza do Velho Oeste e mais pela evocação a um fado de Amália Rodrigues. É uma canção da diva portuguesa que nomeia o filme.
Canções inebriam Eucananã desde menino. Foram canções que injetaram poesia entre os caracóis da cachola do jovem estudante de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que ele um dia foi - e, não por acaso, hoje seu nome integra o copo docente da prestigiosa instituição. Canções estão no DNA da escrita que faz dele um dos mais respeitados bardos da língua portuguesa, e transpiram inspiração em seu novo livro, "Raio".
No mesmo dia da estreia do novo Almodóvar, dia 14/9, Eucanaã vai gritar seu "Shazam!" na Livraria da Travessa de Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 572), a partir das 19h, numa sessão de autógrafos que promete mobilizar a cidade - tema de alguns de seus versos. O bangue-bangue queer do diretor de "Fale Com Ela" (2002) tem uma semana toda pela frente em circuito. Já a chance de olhos nos olhos de Eucanaã, para se colher sua assinatura numa coletânea de poemas que desafiam a gravidade, é única. É quinta, às sete, e ponto.
Nascido em dia 18 de maio de 1961, em Paracambi, no Estado do Rio de Janeiro, onde passou parte da infância, Eucanaã demarcou pra si um (senhor) perímetro lúdico na poesia nacional ao publicar pérolas como "Desassombro" (2002), "Sentimental" (2012), "Escuta" (2015), "Cada coisa" (2016) e "Retratos com "Erro" (2019). Consultor de literatura do Instituto Moreira Salles desde 2010, organizou coletâneas de Vinícius de Moraes, Caetano Veloso e Carlos Drummond de Andrade. O Shakespeare de Itabira é tema de um curso que vem lecionando às terças-feiras no Fundão: "Drummond É Foda!". Na entrevista a seguir, Eucanaã relampeja verdades.
O poema "Blue" talvez seja a síntese do amor e de seu gêmeo mau (o desamor) em "Raio". Mas qual é a medida lírica otimista ou pessimista do amor - o romântico, do desatino; ou o contemporâneo, de novas geometrias - na tua dramaturgia poética?
Eucanaã Ferraz: Nunca evitei o tema amoroso. Ao contrário. Creio que isso se deve ao fato de eu ter sido formado, desde muito cedo, pela canção popular. Quando os livros chegaram à minha vida, encontraram uma sensibilidade marcada pelo sentimentalismo das canções que minha mãe me cantava. E eram sempre aquelas conhecidas pelo termo "de fossa". Nelas, plasmavam-se desejo, separação, saudade, ciúme, traição, vingança, uma trama infinita de delícias e desgraças que eu, menino, desconhecia inteiramente. Mas, de algum modo, a atmosfera me comunicava muita coisa, mesmo o que não estava ao meu alcance existencial. Devo observar ainda que tudo se passava num ambiente concentrado, solitário, cercado de silêncio, gravidade e conforto. Lembro-me bem: eu deitava minha cabeça no colo de minha mãe e pedia que ela me cantasse uma música enquanto me acariciava os cabelos. Minha preferida era "Bar da noite", que, muito tempo depois, vim a saber que fora um grande sucesso de Nora Ney, gravado no início dos anos 1950. A letra fala não só de mágoa, solidão, tristeza, mas também de mesas, copos, e define o bar como um "tristonho sindicato de sócios da mesma dor". É claro que eu, menino, como já disse, não tinha nenhuma noção do que era aquilo. Mas tudo me mobilizava de modo intenso, ainda que suave, como se a voz e o carinho de minha mãe transmitissem, antes de qualquer coisa, o amor, sem adjetivos, sem enredos, sem personagens nem cenários. Cresci pedindo que minha mãe me cantasse aquelas canções infelizes. Faço o mesmo ainda hoje. Fui, desde criança, portanto, um sócio daquele "sindicato" de que fala "Bar da noite". Meus versos trazem essa memória melodramática confundida com a felicidade filial, a voz suave da mãe estranhamente anunciando a dor do amor. Tudo se funde no que escrevo, estão lá, nos versos, Drummond e Maysa, Fernando Pessoa e Dalva de Oliveira, Matisse e Ângela Maria; o verso áspero, o corte surpreendente, mas também a fluidez melódica; a consciência da metalinguagem e as queixas do coração, Erick Satie e Maria Bethânia, Fellini e pontos de umbanda, Lupicínio Rodrigues e Clarice Lispector.
Os hemisférios anfíbios de "Raio" - poemas com prosódia de prosa e prosas com gagueira de poesia - esbarram em evocações do passado de múltiplas formas, de datas e palavras (vitrola, por exemplo). Que passados são esses, o quanto eles tangenciam a tradição da poesia (a sua e de outros)? De que forma esses pretéritos - perfeita ou imperfeitamente - se debruçam sobre seus livros anteriores?
Memória é matéria fundamental da poesia, ainda que seja a rememoração do que acabou de acontecer. A própria língua está fundada na memória, basta dizer uma única palavra e, de imediato, estamos repercutindo a história do idioma. A poesia tem consciência disso. Para ficar mais perto de uma resposta à sua pergunta, poderia dizer que sim, que o passado, menos ou mais distante, sempre me interessou como matéria poética; mas também é certo que ele está de tal modo inseparável do presente que quase nunca vou a ele de modo consciente - porque não se trata de um retorno, mas de permanência. Lembro que em "Livro Primeiro", de 1990, há uma série de poemas que recorda minha infância, a família, a escola. Em Desassombro, de 2001, uma de suas seções chama-se "Poemas do antiquariato", formando uma espécie de museografia das coisas. Já em "Sentimental", de 2012, há um poema que dá vida e voz a um personagem histórico, Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético, mostrado como um indivíduo que vive numa espécie de presente absoluto. No mesmo livro, um poema, "Victor Talking Machine", recupera a célebre imagem do cão que parece intrigado com o som que sai de um gramofone. Os versos veem, frente a frente, uma invenção, algo historicamente marcado, portanto, e uma presença viva do mundo natural. O que importa, no fim da conta, é a diferença: "o gramofone murchou, / ficou mudo, mas o cachorro permanece / todo atual." O passado, quando retorna, faz parte do presente, mas sua textura histórica, digamos, está lá. Em uma plaquete chamada "Trenitalia", de 2016, reuni um pequeno conjunto de poemas escritos na Itália, e creio que neste breve volume a tensão entre memória e palavra, bem como o presente como único tempo possível nunca estiveram tão claramente colocados. Haveria muitos exemplos a citar. Os leitores encontrarão muitos em "Raio".
Um poeta sente o peso do tempo, da idade, na escrita? Como?
É uma questão difícil de situar, porque há sempre exceções, variantes, pontos de contradição e, sobretudo, de tensão. Mas é certo que a escrita não tem de envelhecer juntamente com o corpo. O poema não tem idade. Também não há dúvida de que o verso ter força para incorporar tudo, e assim, o peso do tempo, o desgaste físico e a proximidade da morte podem, em vez de enfraquecer ou imobilizar, animar a escrita como qualquer outro tema. A poesia de Drummond tratou muitas vezes do envelhecimento. Por outro lado, a velhice pode trazer como matéria as reminiscências da infância e da juventude.
Tanto nos versos que falam de uma "gangue da correntinha" ("Volta") quanto nos poemas sobre o Rio, teu "Raio" parece alumiar geografias numa paisagística muito peculiar, porém sem estranhamento, sem exotismo. Qual é o lugar das cidades - como tema ou como processo - no teu livro?
Sou um poeta urbano. E pergunto se não será assim com todos. O fato é que a cidade sempre me interessou. Poderia dizer que ela é, digamos, personagem constante, privilegiado, mas é sobretudo a dicção, o ritmo, o que incita o poema. Em "Raio", acontece exatamente isso. Limitando-me a falar sobre ele, também posso observar que nele aparecem certas cidades identificadas, nomeadas, vividas como paisagens. O Rio de Janeiro, por exemplo, nunca esteve tão presente como cenário. E, mais uma vez, São Paulo se impõe como lugar. Portugal, constante em todos os meus livros, aparece entrevisto na cidade de Faro, mas o que interessa ali, na verdade, é o poeta Gastão Cruz, meu grande amigo. Uma cidade não é o ajuntamento de edifícios e ruas, é a vida que se faz ali.
Há fúria em "Raio", vide: "À bandeira nacional dei o nome de estrume". Mas parece haver uma certa serenidade que conversa com um de seus mais belos livros, "Martelo". Esse mar sereno da tua cabotagem aponta que rumos para a sua trilha nas Letras, na poesia, no ensino?
Sim, há uma agitação violenta em vários momentos de "Raio". Nesse sentido, penso que o poema mais exemplar seja o que se chama "Veja só", do qual cito o início: "Adverso e desgostoso digo não redondamente em áspero e bom som. Desconheço. Desminto e nem sequer. Denego nego contradigo viro a página rasgo a página queimo. Longe de mim. Nem assim nem assado nem pensar. Não tenho estômago para. Me inclua fora desse enredo. Cansei." Esse poema, para mim, concentra toda minha capacidade de recusa. Muitas vezes é preciso dizer não, sem deixar dúvida - não transigir, não negociar. Estar pronto para isso é um aprendizado, um exercício. Dizer sim também o é, eu poderia acrescentar, mas dizer não é um ato que nasce de situações desagradáveis, implica discórdia. O não se faz dentro do trauma. Minha inclinação, como indivíduo entre indivíduos, é para a harmonia, o acordo. Por isso mesmo, irrito-me com facilidade quando vejo se estragar o que era harmonioso. Mas sim, em "Raio", há serenidade, sobretudo nos arranjos sintáticos, no corte dos versos, na armação das estrofes. Os versos terem se distendido nas linhas contínuas da prosa dão bem o sinal de que a escrita se fez de modo menos tenso do que nos livros imediatamente anteriores.
Em fricção contínua com a poesia, como autor e professor, que exercício você faz pra desopilar o olhar e o diafragma de modo a ainda ler poesia com algum alumbramento?
Meu olho está sempre recomeçando. Trago o espírito adolescente, ávido por se lançar nas coisas. Nesse sentido, o exercício de se lançar para fora é permanente, porque tudo me comove: um prédio, a capa de um livro, uma cadeira, uma pedra, uma canção, uma árvore, uma garrafa vazia. Estou sempre em exercício, e nunca me canso.
Que novas ruminações hão de vir por aí, ou seja, que novas antologias você prepara agora? O que o passeio recente por Drummond, Cabral, Caetano - em antologias que preparou - te trouxe de mais renovador?
Concluí uma seleção de poemas de Eugénio de Andrade com vistas à publicação de uma antologia. Meu amor pelas obras de Drummond, Cabral e Caetano é antigo, e o trabalho com suas obras também vem de longa data. Elas me renovam sempre. Impossível avaliar, descrever, colocar assim, em poucas linhas, algo que se confunde com minha própria vida.