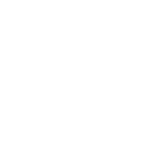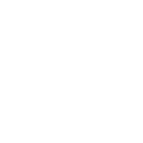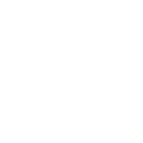No funeral de James Baldwin, em 1987, uma das encarregadas de discursar foi Toni Morrison, poucos anos antes de se tornar a primeira mulher negra a levar o Nobel de Literatura. Mas ali quem falava era uma amiga, sete anos mais nova, que se referia a ele como "Jimmy". "Há coisas demais a pensar sobre você, e coisas demais a sentir. A dificuldade é que sua vida rejeita ser resumida — sempre rejeitou — e convida, no lugar, a ser contemplada."
Cem anos depois do nascimento do autor, marco que se completa nesta sexta-feira (2), essa contemplação não se abrandou — e Baldwin não se tornou nem um pouco mais fácil de definir.
Novaiorquino do Harlem morto de câncer em Paris, onde morou durante a maior parte da vida madura, Baldwin não foi apenas um escritor celebrado por romances como "Terra Estranha" e "Se a Rua Beale Falasse", mas um intelectual capaz de se inserir com voracidade e elegância no debate público, influenciando discussões sobre raça, sexualidade e religião num esforço de incansável independência.
"Baldwin consegue vivenciar a ambiguidade como um lugar", afirma o sociólogo Márcio Macedo. "E a ambiguidade é a única forma de entender a experiência negra em toda a sua complexidade."
Com isso, diz o professor, ele conseguia entender e organizar, na ebulição dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos anos 1960, tanto a radicalidade dos Panteras Negras e dos muçulmanos que estavam com Malcolm X quanto a perspectiva pacifista de Martin Luther King.
Seu mais recente lançamento no Brasil, a reedição de "Da Próxima Vez, o Fogo" na Companhia das Letras — que encampa um projeto sólido de reapresentação do autor ao público desde 2018 —, traz o longo ensaio autobiográfico "Ao Pé da Cruz: Carta de uma Região de Minha Mente", que deixa explícita a singularidade de seu percurso.
O texto mostra sua incorporação e, então, afastamento dos valores tradicionais de sua família; o mesmo balanço pendular em relação ao trabalho como pregador numa igreja cristã, na juventude; movimento que depois repete num encontro com o mítico líder Elijah Muhammad, da Nação do Islã. Aqui, há uma cena fascinante.
Cercado de acólitos numa mesa em sua casa, Muhammad percebe que Baldwin não pretende se filiar a seu grupo e pergunta, então, o que ele era se não muçulmano. "O que sou? Agora? Não sou nada", responde ele, algo desconfortável. "Sou escritor. Gosto de fazer as coisas sozinho."
"Não sei se a literatura do Baldwin é desejada por muita gente", diz o historiador e educador Allan da Rosa. "É uma literatura que aceita demonstrar fraquezas de discursos tidos como libertadores e forças de discursos tidos como superados."
Segundo o pesquisador, Baldwin tensionava "isso que hoje a gente chama de representatividade". "Ele dizia que o escritor não é deputado para representar milhões de pessoas. Se ele quiser representar essas pessoas, vai deixar de representar a si mesmo."
Rosa lembra que, quando vinham celebrar o escritor como uma voz em prol da libertação da comunidade gay, pelo romance "O Quarto de Giovanni", ele retrucava. "Não, eu não escrevi um livro sobre a homossexualidade. Isso é superficial, fortuito. Eu escrevi um livro sobre os labirintos do amor."
A figura de Baldwin, como um homem negro que fugia à heteronormatividade e às masculinidades viris que eram hegemônicas em sua época — aliás, presentes em homens como Malcolm X —, corrobora o que Macedo dizia sobre seu terreno de ambiguidade.
Hoje, num mundo mais acostumado a fazer intersecção entre debates de raça, gênero e sexualidade, a leitura do americano se renova e se alastra. "Baldwin se tornou uma das vozes mais fascinantes do século 20 graças ao seu estilo lúcido, que impressiona pela atualidade", afirma Alice Sant'Anna, que o edita na Companhia das Letras.
Essa atualidade, germinada por autores como ele, o acolhe melhor como referência. Durante a conversa com o repórter, Macedo mostra um aviso que vinha nas primeiras páginas de uma edição de 1967 de "Numa Terra Estranha", na editora Globo — que, na tradução da Companhia, perdeu a primeira palavra do título.
"Este livro destina-se a leitores adultos: sob nenhum pretexto deve ser posto na mão de menores", alertava o texto, que logo em seguida saudava a obra como "um dos mais poderosos romances de nossa época". Algo revelador de um crítico que consegue ao mesmo tempo combater e conciliar, como sugere Sant'Anna. "É uma proposta de fazer com que nós, brancos, percebamos o nosso lugar e, a partir daí, propor uma transformação."
"A maior crítica dele é à hipocrisia da América", afirma Allan da Rosa. "Ele apresenta a neurose do racista, mostra como há uma tormenta no puritanismo do branco, que elabora um sistema discursivo e ideológico para dar conta de ser pseudocristão, linchador e segregacionista. Esse é o grande abismo. Ele mergulha nessa subjetividade e em como como isso se esparrama nas almas negras."