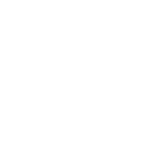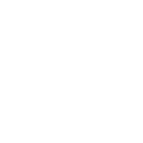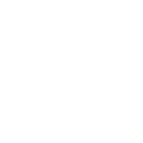Por João Lucas da Silva*
Você chega em casa e percebe que o quadro valioso que costumava estar na parede está faltando. Ao verificar a janela, nota que ela está ligeiramente aberta, algo que não é comum. Na sala, encontra um copo quebrado no chão e algumas marcas de sujeira perto da cômoda, como se alguém tivesse se apoiado ali. Também percebe que a gaveta do móvel foi forçada, e o conteúdo está desorganizado.
Encontra ainda uma luva esquecida no canto da sala, que claramente não é sua. As pegadas de lama ao redor da janela indicam que o invasor provavelmente entrou por ali. Ao inspecionar a área ao redor, percebe que há pequenas fibras no tapete, possivelmente de uma mochila ou roupa. Juntas, essas evidências - a janela aberta, as marcas no chão, a gaveta mexida e a luva - sugerem fortemente que o quadro foi roubado.
Enquanto caminhava pela vizinhança, procurando mais pistas, olha pela janela de um vizinho e vê um quadro idêntico ao seu pendurado na parede. Ao se aproximar, nota que há uma marca exclusiva na moldura, suas iniciais, que são diferentes das do seu vizinho. Isso torna bastante improvável que o quadro na casa dele seja uma cópia. Isso confirma ainda mais que o item foi roubado, e agora você tem um suspeito muito forte.
Não é preciso ser um Sherlock Holmes para seguir essa cadeia de raciocínio e concluir que você não incorre em grande equívoco se resolver ir adiante com a sua suspeita. Mas para algumas pessoas, dado que você não pode voltar no tempo para ver exatamente o que aconteceu, nem tem uma gravação mostrando tudo, todas as evidências devem ser consideradas inválidas. É como se as investigações das ciências históricas fossem inferiorizadas perante as ciências ditas experimentais; "se não dá pra replicar, então de que vale?". É um raciocínio que, embora defendido por muitos cientistas, é típico de criacionistas.
Mas, como disse, não é algo exclusivo dos criacionistas. Sobre hipóteses acerca do passado remoto, veja, por exemplo, o que escreveu o então editor da Nature, Henry Gee, em 1999: "Elas nunca podem ser testadas por experimentos, e, portanto, são anticientíficas... Nenhuma ciência pode ser histórica". Existe essa ideia de uma inferioridade das ciências históricas perante as experimentais, o que pode explicar, como ressaltou a filósofa da ciência Carol E. Cleland, "o surpreendente número de físicos e químicos que atacam o status científico da evolução neodarwinista". Um dos principais responsáveis? A ideia limitada, embora muito comum, de que há um método científico.
Esse tal "método científico" pode ser ilustrado com um exemplo. Considere a hipótese (H) "todo cobre expande quando aquecido". Dessa hipótese, podemos inferir um teste (T) que avalia o que deve acontecer caso H seja verdadeira. Esses testes têm uma forma geral: se a condição C (aquecer um pedaço de cobre, por exemplo) acontecer, então o evento E (expansão do cobre) acontece. Daí, cria-se a condição C em laboratório e verifica-se se observamos o evento E ou não. Uma vez que tenha sido realizado o teste, como avaliamos uma hipótese?
Há duas formas "tradicionais", segundo a cartilha do "verdadeiro" método científico: indutivismo ou falsificacionismo. Da perspectiva indutivista, se prevemos o evento E sob a condição C e o observamos como resultado de um experimento, então isso é tido como confirmação. E se fizermos muitos e muitos experimentos que confirmam H, então essa hipótese é considerada como forte. Evidentemente, há um problema fundamental com o indutivismo: não importa quantos experimentos sejam realizados, jamais haverá um número infinito deles que permita provar que a hipótese se revelou infalivelmente verdadeira.
Percebendo esse problema com o indutivismo, o falsificacionismo (geralmente atribuído ao filósofo Karl Popper) toma outra rota. Embora não se possa provar uma hipótese como verdadeira, é possível demonstrá-la falsa. Se nossa hipótese for "todo cobre expande quando aquecido" e observarmos um pedaço de cobre que não expande ao ser aquecido, então essa hipótese será refutada. Segundo Popper e sua escola, devemos sujeitar uma teoria ou hipótese a um "teste arriscado", isto é, um teste que poderia facilmente demonstrar que a hipótese sob consideração não é verdadeira. Se os eventos observados não ocorrem como o previsto pela hipótese, então ela é rejeitada.
Em resumo, fazer ciência não é tão estereotipado quanto se imagina. Dito isso, agora podemos voltar para a dicotomia ciência experimental vs histórica. Embora na ciência experimental nós possamos refutar hipóteses, geralmente não é possível fazer isso nas ciências históricas; não da mesma forma, pelo menos. Contudo, isso não significa que as ciências históricas não são testáveis. De modo geral, as ciências de natureza histórica (como evolução, geologia, paleontologia) procedem pela formulação de hipóteses alternativas (de preferência mutuamente excludentes), e pela comparação entre as implicações das hipóteses e o que é observado na natureza. Gosto de pensar as teorias e hipóteses nas ciências históricas da perspectiva da máxima verossimilhança: as melhores ideias são aquelas que melhor explicam os fatos observados.
Embora haja diferenças na prática e epistemologia das ciências experimentais e históricas, não se pode argumentar com sucesso que uma é melhor que a outra. Infelizmente, é muito comum que ciências como a física sejam tidas como "o" modelo do que é ciência de verdade, enquanto as ciências de cunho histórico são tratadas como inferiores, já que "ninguém estava lá para ver" e que não podemos recriar eventos históricos experimentalmente.
São ciências diferentes, que operam por métodos diferentes, mas que não cabem numa hierarquia de valor. Quando usamos o termo "método científico" sem reconhecer a pluralidade metodológica, podemos incorrer nesse tipo de erro. Vale a pena refletir sobre isso!
*Mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa, e atualmente Doutorando em Ciências Biológicas na mesma universidade