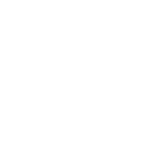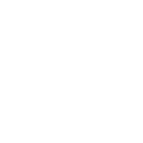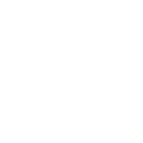As mortes de Washington Rodrigues e de Silvio Luiz marcam de vez a mudança no futebol: são tão simbólicas quanto a substituição de estádios por arenas, dos clássicos com torcidas mistas pela separação que institucionaliza o ódio, dos clubes associativos pelas SAFs. Era um tempo em que entrevistar jogador de futebol era mais fácil do que conversar com ministros de governo ou do Supremo Tribunal Federal.
Como disse Paulinho da Viola, sem preconceito, sem mania de passado. Não se trata de dizer que o período tão identificado com o auge da atuação desses colegas era melhor — nada disso, o ambiente do futebol era mais preconceituoso, racista, machista e homofóbico.
Tenebrosas transações envolvendo dirigentes de clube eram ainda mais comuns; a atuação das federações e da CBF conseguia ser pior. As arbitragens tinham sobre si uma nuvem de suspeição maior que a atual, o VAR não passava de uma possibilidade futurista (ainda que, convenhamos, talvez seja necessário criar por aqui um VAR do VAR).
Washington Rodrigues e Silvio Luiz traduziam uma intimidade bem evidente com o universo do mais popular dos esportes. Havia em suas falas, em suas tiradas e em seus bordões uma ligação direta com o que se pensava e falava nas ruas; pra usar uma imagem outrora muito comum para definir a relação de grandes jogadores com a bola, eles tratavam o futebol de você, não de vossa excelência.
São da linhagem que produziu nomes como Sandro Moreyra e o maior de todos, João Saldanha. Ouvi-los durante e depois de um jogo era obrigatório, fazia parte do ritual que incluía o gesto definidor de subir a rampa do Maracanã — o primeiro e único, então o maior estádio do mundo, o gigante que ficava deserto e adormecido depois de uma partida, imagem lírica e definitiva criada por Waldir Amaral e que me emociona até hoje.
Era o tempo de geraldinhos e de arquibaldos, palavras criadas pelo Apolinho, apelido de Washington Rodrigues, para definir os que iam aos estádios e davam sentido aos jogos, santificavam o que está longe de ser apenas uma disputa de 22 pessoas em torno de uma bola.
Ele e Silvio Luiz tabelavam com a torcida ao criarem bordões como "feliz como pinto no lixo", "briga de cachorro grande", "chocolate" (referência a uma goleada), "parir um porco-espinho" — todos carioquíssimos, da lavra de Rodrigues. Soube que, uma vez, irritado com o péssimo primeiro tempo de um jogo, ele quebrou o padrão e, ao invés de entrevistar jogadores, inventou uma conversa com a bola, tão maltratada durante aqueles 45 minutos.
Já Silvio Luiz encarnava o paulistão do um chopes e dois pastel, era quase uma versão de Adoniran Barbosa nas transmissões esportivas. Levou para a cabine um viés mais despojado, não lapidado, meio tosco, fora do padrão consagrado pela Globo, a líder de audiência.
Assim como Januário de Oliveira ("Taí o que você queria", "Cruel, muito cruel", "Sinistro, muito sinistro"), Silvio Luiz combinava mais com jogos mal iluminados, em estádios precários, com gramados cheios de buracos. Sabia divertir o torcedor; com seu talento, transformou partidas horrorosas em espetáculos apetitosos — e tome de "Olho no lance", "Pelo amor dos meus filhinhos", "Pelas barbas do profeta", "O que que eu vou dizer lá em casa?". Já salvou meu humor em alguns terríveis jogos do meu Botafogo.
Não acompanhei de perto o trabalho de Antero Greco, jornalista especializado em esportes que morreu ontem. Mas pela quantidade de amigos que o reverenciam foi, certamente, um grande profissional e uma ótima pessoa. Ao lado de Rodrigues e de Silvio Luiz, ele ajudou a iluminar o jogo que tanto fascina os meninos e as meninas que um dia chegamos pela primeira vez a um estádio.