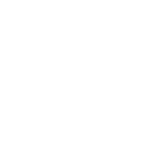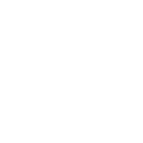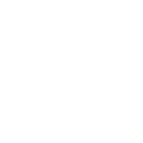A abordagem de PMs a quatro jovens — três deles, negros — em Ipanema revela preconceito não apenas por parte dos policiais, mas também de boa parte da sociedade, que normalizou e incentiva a prática desse tipo de constrangimento contra segmentos específicos.
A história só gerou repercussão porque os três são filhos de diplomatas e o quarto, branco, sobrinho de um jornalista que tem 480 mil seguidores no X, ex-Twitter. Por sua condição social, as vítimas fazem parte de um universo próximo ao de moradores da Zona Sul carioca que, chocados diante do vídeo, manifestaram sua indignação em redes socais.
O vídeo mostra cenas que viraram cotidianas: logo no início das imagens, uma mulher se desvia do grupo de garotos, percebe a chegada da polícia, e vai embora. O porteiro do prédio, que sai para deixar sacos de lixo na calçada, não manifesta nenhuma reação nem ao fato de, ao enquadrarem os jovens, PMs invadem área do prédio. É até compreensível um certo temor do funcionário de questionar os policiais, mas tudo se desenrola sem espanto ou supresa.
O vídeo não teria gerado sequer uma parcela da comoção caso os alvos vivessem em favelas ou em um bairro periférico, a ação teria sido vista como algo normal, previsível, necessário. A sociedade criou um padrão: reage de maneira incisiva quando um dos que considera próximos é desrespeitado por agentes do Estado e fica quieta quando isso ocorre com os suspeitos de sempre.
Pré-candidato a vice na chapa de reeleição do prefeito paulistano, Ricardo Nunes, o coronel da reserva da PM Ricardo de Mello Araújo resumiu bem a situação quando estava na ativa: a abordagem de uma pessoa na periferia é um jeito; em áreas nobres, de outro.
Boa parte da indignação com a tortura a presos políticos durante a ditadura foi devido à origem daquelas pessoas, quase todos brancos, de classe média. A eles, o aparelho repressivo não poderia aplicar o tratamento violento historicamente reservado aos pobres.
Ouvido pela coluna Correio Bastidores logo depois que o vídeo foi postado, o secretário de Polícia Militar do Rio, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, considerou a abordagem dentro dos padrões. Disse que os garotos foram revistados não porque eram negros, mas porque eram jovens e há, na região, muitos assaltos cometidos por pessoas da mesma faixa etária.
Vale o registro, mas é difícil acreditar que seus subordinados agiriam daquele jeito caso todos do grupo fossem brancos. A cidade é violenta, policiais são mortos por bandidos, mas nada justifica o fato de PMs apontarem armas para cidadãos, jovens ou velhos, pretos ou brancos, que não estejam cometendo qualquer tipo de infração ou crime. Há meliantes no Congresso Nacional, em governos, em corporações civis e militares, na Faria Lima — mas essas pessoas não são vítimas de abordagens preventivas.
No último verão, o governo estadual deu um jeito de determinar a revista de ônibus que, carregados de jovens, quase todos pobres, quase todos pretos, cruzassem a cidade em direção às praias da Zona Sul. A notícia foi recebida com indignação apenas por setores ligados à defesa dos direitos humanos.
Os PMs que constrangeram os jovens têm que ser investigados e punidos, mas é preciso ressaltar que eles só agiram daquele jeito porque atenderam a uma reivindicação de parte significativa da sociedade. Eles jamais agiriam daquela forma caso não fossem autorizados e incentivados a fazê-lo. Não basta apenas apontar o dedo para os policiais, é preciso também que cada cidadão indignado olhe para si, para as mãos que ajudam a segurar e apontar aquelas armas.
E não custa lembrar: polícia autorizada a desrespeitar pobres volta e meia erra o alvo e atinge pessoas de outras origens. Ninguém está livre do arbítrio do guarda da esquina.