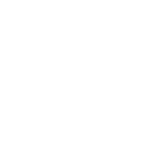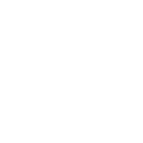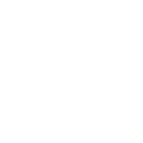Deputados estaduais do Rio Grande do Norte e a governadora Fátima Bezerra (PT) têm a obrigação de autorizar o uso, em salas de aula, do Alcorão, de livros de Allan Kardec e de textos baseados em tradições religiosas indígenas e afro-brasileiras. A lista deve incluir material relacionado a qualquer outra forma institucionalizada de fé.
A medida tem que ser tomada para compensar a lei 11.935/2024, sancionada pela governadora no último dia 8, que permite a leitura de trechos bíblicos nas escolas "como recurso didático e paradidático para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica de seu conteúdo".
De autoria do deputado evangélico Coronel Azevedo (PL), o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa e transformado em lei contraria o caráter laico do ensino público e não passa de maneira disfarçada de impor uma visão religiosa aos estudantes.
Em primeiro lugar, não seria preciso autorizar o que nunca foi proibido, a leitura de textos bíblicos que sejam úteis em atividades escolares. A Bíblia, assim como outros livros religiosos, carrega uma série de referências, históricas, culturais e geográficas que podem ser úteis no ensino. A permissão legal é, na prática, um estímulo a evangelização incompatível com o ambiente escolar.
A lei finge ser pluralista ao ressalvar que será garantida "a liberdade de opção religiosa e filosófica, sendo vedada a obrigatoriedade de participação em qualquer atividade". Como nos casos de criação do ensino religioso em redes públicas, a própria existência de algum tipo de prática relacionada à fé em ambiente escolar abre caminho para a discriminação.
Não é simples para uma criança afirmar que não quer acompanhar uma leitura de textos bíblicos porque sua família é candomblecista, mulçumana ou atéia. Isso, num país em que o preconceito religioso é muitas vezes motivador de violência contra os que professam crenças não hegemônicas. Escola é lugar de integração, de superação de diferenças, não de exclusão.
A desculpa de que a leitura de tais trechos terá caráter didático apenas reforça a importância de inclusão de outros textos considerados sagrados ou que fazem referências a tradições preservadas oralmente e, depois, consolidadas em livros. Um professor de história ou de geografia pode citar o Velho Testamento para falar das crises no Oriente Médio — mas tem que citar também o Alcorão.
O problema é separar a fé do conhecimento. É impossível ignorar datas queridas como o Natal e a Páscoa, tão presentes na nossa vida, mas a escola não pode bancar que Jesus era filho de Deus e que ressuscitou — todos somos livres para acreditar ou não no que está escrito na Bíblia.
Pior seria levar para aulas de biologia, fantasias como a criação dos seres humanos a partir de Adão e Eva, algo válido apenas no campo da mitologia.
(E por falar nisso: segundo a tradição iorubá, o mesmo barro serviu para Oxalá nos moldar. Seria legal contar nas escolas como duas culturas tão diferentes têm pontos em comum. Mas isso, claro, sem dar a qualquer visão religiosa o peso de verdade factual ou histórica).
É impossível negar a importância das culturas e religiões dos povos originários e daqueles trazidos da África na formação brasileira. Vieram deles rituais e das crenças que, muitas vezes sincretizados, estão presentes na nossa vida e têm também valores culturais, históricos, geográficos e arqueológicos. Vale lembrar que o gentílico "potiguar" vem de um povo indígena do ramo tupi.
Só o preconceito religioso — irmão gêmeo do racial — explica a não previsão, pela tal lei, de uso de textos de outras religiões. É preciso, portanto, incluí-los. O mais razoável, porém, seria a revogação da 11.935 ou a declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.