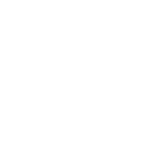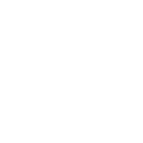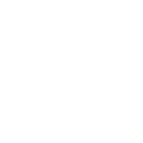"Ainda estou aqui" trata de memória e, de maneira complementar, de um país que optou pelo Alzheimer em relação à ditadura implantada em 1964. Diferentemente do que ocorreu com Eunice Paiva — vítima da doença nos seus últimos anos de vida —, uma boa parte do Brasil decidiu, de maneira voluntária e cúmplice, esquecer a barbárie, os 434 mortos, entre eles, 210 desaparecidos, caso do ex-deputado Rubens Paiva.
O longa-metragem sobre o sequestro, tortura, assassinato e desaparecimento de Paiva é pontuado por fotos de família e de imagens em movimento que simulam as captadas pelas antigas câmeras do formato Super 8. Insiste assim na importância de documentar, de lembrar.
Ao priorizar o cenário doméstico, a casa dos Paiva na avenida Delfim Moreira, no Leblon, reforça uma tendência ainda pouco explorada entre nós, a de mostrar a ditadura menos pela ação de seus agentes e mais pelo impacto na vida de suas vítimas.
"Ainda estou aqui" revela que, em diferentes graus, ninguém deixa de ser afetado pelo arbítrio. Há os que têm suas vidas destroçadas e os que lucram ao se associarem aos torturadores — muita gente enriqueceu ao fingir que não ouvia os gritos que vinham dos porões. Muitos empresários bancaram estruturas clandestinas da repressão.
É até comum ouvir de alguns imbecis que, durante a ditadura, só foram perseguidos e mortos os que trataram de arrumar confusão, assaltaram bancos, sequestraram diplomatas. Quem ficou quieto, não teria sofrido nada, havia até prosperado.
Por mais errada e mesmo suicida que tenha sido a opção de parte da esquerda brasileira pela tentativa de luta armada, vale repetir que não é crime combater a opressão — foi o que fizeram integrantes da resistência francesa diante da ocupação nazista. Engenheiro, Rubens Paiva tinha 40 anos e cinco filhos quando foi morto. Ele teve seu mandato de deputado cassado, fez oposição ao novo regime, mas não pegou em armas.
Foram os militares, associados a setores da sociedade civil, que romperam as regras do jogo democrático, depuseram o presidente constitucional e iniciaram a prática sistemática de torturas ainda em abril de 1964.
Um processo que afetaria a vida de todos os brasileiros. Impediu a prática sindical — e a consequente luta por melhores salários —, reforçou a desigualdade no campo, acelerou o extermínio de populações indígenas, estabeleceu a censura, impediu que brasileiros tivessem acesso a notícias, filmes, livros, peças de teatro, travou a renovação dos quadros políticos, fez com que muitos procurassem abrigo no exterior.
Livres do controle do Judiciário, do Ministério Público e da imprensa, os governos militares tiveram liberdade para permitir e patrocinar desvios e escândalos bilionários.
Sensível sem ser piegas, marcado por interpretações gigantescas de Fernanda Torres e de Fernanda Montenegro, o filme de Salles revela como a ditadura se entranha no cotidiano de cada um, destrói vidas, contamina um país, distorce gerações.
Como uma bomba de efeito moral, o longa explode na cara dos covardes que veem coragem na atuação de torturadores — canalhas que espancam, estupram e matam pessoas subjugadas — e cobra das Forças Armadas uma atitude digna, de reconhecimento das barbáries cometidas no período.
A recente tentativa golpista que mobilizou setores importantes dos quartéis enfatiza a necessidade de os militares romperem com aqueles que mancharam suas fardas. A leniência com o passado compromete as instituições que eles tanto dizem amar.
O título do filme está no singular, mas deveria estar na primeira pessoa do plural. Ainda estamos aqui, não tememos contar histórias que são nossas. Não se pode desaparecer com a história, que permanece viva, que se manifesta nem que seja numa discretíssima reação de uma idosa que, isolada do mundo, ainda é capaz de se emocionar quando se depara com referências ao seu — nosso — passado.