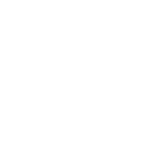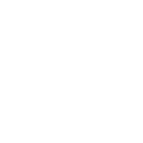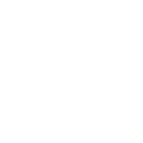Por uma questão de estratégia, o deputado Glauber Braga (Psol-RJ) concentra em Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, a responsabilidade pela possível perda de seu mandato — mas sabe que a briga que comprou não é pessoal, mas de caráter corporativo.
Organização cada vez mais fechada em torno de seus membros, a Câmara admite quase tudo, menos que um dos seus atue contra interesses dos demais.
Ao insistir no tema do orçamento secreto, Glauber quebrou uma espécie de código de honra que determina o silêncio em alguns casos de interesse da Casa: ainda mais grave, despejou a cesta roupa suja no Supremo Tribunal Federal.
Por artigo não escrito do regimento, um parlamentar não acionar outros poderes contra interesses coletivos de colegas. Por mais que seja identificado com a preservação e, depois, com a renovação do mecanismo que ocultava autores de emendas ao Orçamento, Lira agiu apenas como presidente do coletivo de deputados.
A investigação do assassinato da vereadora Mariele Franco (Psol) indica que um dos motivos de sua morte foi a atuação de um, na época, companheiro de partido, o então deputado estadual Marcelo Freixo. Ele quebrara o tal código ao conseguir que a Justiça impedisse a posse de Edson Albertassi, também integrante da Assembleia Legislativa fluminense, no Tribunal de Contas do Estado.
Caso Albertassi tivesse chegado ao TCE, ele e seus colegas investigados pela Polícia Federal só poderiam ser processados pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem o foro privilegiado, acabaram presos.
Seria injusto, porém, dizer que essa lei do silêncio só existe no Legislativo. A união do Judiciário e do Ministério Público em torno de privilégios corporativos demonstra isso. O Executivo também abriga categorias que não admitem qualquer questionamento ao que consideram direitos adquiridos, algo muito evidente no caso dos militares.
Na Câmara, Glauber protagonizou embates pesados, por diversas vezes foi irônico e usou palavras duras contra adversários políticos, entre eles, Lira. Mas esse tipo de comportamento tende a ser absorvido pela chamada classe política (denominação que por si só denuncia um excesso corporativo).
Ao lutar contra o abuso de emendas parlamentares, porém, o representante do Psol cruzou uma linha, mexeu com interesses, nem sempre lícitos, de muitos colegas. Para uma parte dos integrantes do Congresso, questões ideológicas são como adereços, servem como uma espécie de decoração, o que importa mesmo tem a ver com interesses nem sempre confessáveis.
Glauber se excedeu ao expulsar da Câmara, aos pontapés, um militante do MBL que se especializara em provocá-lo, principalmente em ruas cariocas. O sujeito atrapalhava atos do parlamentar, fazia todo o tipo de deboche, tentava tirá-lo do sério em performances que eram devidamente gravadas e expostas em redes sociais.
Havia nos seus gestos uma clara intenção de provocar uma reação física do parlamentar, aquela história do não encosta a mão em mim. No ano passado, na Câmara, diante de ofensas à sua mãe, Glauber fez o que o militante queria — partiu para a agressão e abriu margem para o processo de cassação de mandato por quebra de decoro.
Não foi a primeira cena semelhante no Congresso. Relator do caso de Glauber no Conselho de Ética, defensor da expulsão do parlamentar da Câmara, o deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), em 2001, agrediu um jornalista que lançava um livro contra o ex-governador baiano Antonio Carlos Magalhães, seu tio. Essa história terminou em vatapá.
Apesar de todos os seus motivos, Glauber errou feio ao agredir um cidadão, ainda mais no interior da Câmara. O deputado, que iniciou uma greve de fome, merece uma punição, mas não a perda do mandato que lhe foi entregue por eleitores. Até porque a pena está menos relacionada aos pontapés no adversário e mais aos certeiros chutes que desferiu no orçamento secreto.