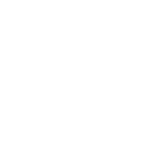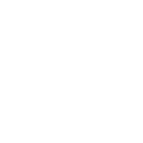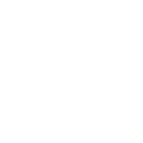De uns dez anos para cá, proprietários de apartamentos no Rio passaram a fechar suas varandas com vidros, num movimento inverso ao que dava as cartas na arquitetura desde o fim dos anos 1970.
Na explosão imobiliária na Barra da Tijuca, incorporadoras passaram a investir na construção de grandes espaços externos, apêndices que se debruçavam sobre a paisagem de praia e lagoas.
Houve ali uma radicalização das sacadas tão presentes na arquitetura herdada dos portugueses, tão presentes em imóveis construídos até as primeiras décadas do século XX. As novas varandas, porém, não tinham nada de discretas — de tão grandes, pareciam mergulhar no espaço, passaram a desafiar a monotonia de fachadas envidraçadas, comuns nos anos 1950 e 1960 e que marcam, por exemplo, a orla de Ipanema e Leblon.
A tendência deu tão certo que se espalhou pela cidade. Em pouco tempo, varandas tornaram-se praticamente obrigatórias em todos os prédios novos do Rio. Pouco importava se aqueles complementos fossem pequenos, espremidos, que ficassem diante de vias expressas barulhentas ou proporcionassem vistas nem um pouco agradáveis.
Era preciso ter varanda — para estender uma rede, botar uma mesinha pro café ou pra cerveja, facilitar a circulação do vento em verões cada vez mais escaldantes.
A tendência se espalhou pelo país, chegou às habitações populares — o já então presidente Lula recomendou a construção de pequenas varandas ou sacadas em prédios do Minha Casa, Minha Vida. Segundo ele, para evitar o agravamento de conflitos domésticos. Em meio a uma discussão com a mulher, o sujeito teria um lugarzinho pra respirar, fumar um cigarro, esfriar a cabeça.
Herdeiras dos antigos alpendres, as varandas, nas casas, faziam uma espécie de transição entre interior e exterior, abriam-se para a rua e garantiam a privacidade das paredes para dentro.
Sua adaptação aos prédios ocorreu num momento de início de abertura política, quando o país procurava deixar que a luz do sol penetrasse em todos os cantos, era preciso arejar, tirar o mofo acumulado nos porões da ditadura e que contaminavam a vida como um todo.
Aos poucos, porém, começou a mudança. Famílias trataram de fechar essa comunicação mais explícita com a cidade, invadiram as varandas, houve uma quase grilagem daquele local meio abstrato, sem paredes e que interagia com a cidade. Esses locais foram ocupados, transformados em extensão das salas, a privacidade passou a ser garantida com a colocação de cortinas que impedem o contato visual com que se passa em volta.
Na pandemia, menos infelizes foram os que tinham grandes varandas ou terraços que permitissem uma visão menos acanhada do céu. O medo do vírus, porém, ressaltou temores, alertou para riscos, indicou para o perigo de tudo o que vinha de fora, o que reforçou a tendência de isolamento.
O processo de fechamento de varandas é simultâneo a uma tendência de negação da vida comunitária, de esfriamento de lutas coletivas, de valorização do indivíduo e das conquistas pessoais.
Ao fechar o espaço que permitia uma maior interação com a sociedade, a família sinaliza que o importante é o que se passa dentro do apartamento, um bunker simbólico que a protege da fumaça, do barulho, da violência, das ruas apinhadas de famintos e pedintes, dos gritos e dos alertas que chegam de uma sociedade cada vez mais excludente.
Pouco importa se o fechamento das varandas e a posterior colocação de cortinas nesses espaços destruam também a harmonia das fachadas dos prédios — isso apenas reforça a tendência nacional de isolamento e de ignorar tentativas que busquem um mínimo de harmonia — vale o cada um por si.