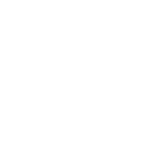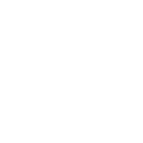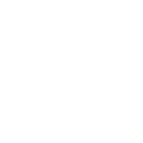A trajetória do agora detento Fernando Collor de Mello é um exemplo didático e irônico da política brasileira, que surpreende apenas pelo fato de o ex-presidente ter ido parar na cadeia.
O fato de ele ter sido condenado e preso por um escândalo ocorrido em governo petista reforça o lado cômico da história, da tragédia que, por aqui, já nasce como farsa. Ele só conseguiu embolsar os tais R$ 20 milhões porque era senador — e seus votos no Congresso eram necessários para Lula e Dilma Rousseff, que trataram de garantir o direito de ele dar as cartas numa então subsidiária da Petrobras.
Collor chegou à Presidência embalado pela fama de Caçador de Marajás — ele usava o título dos príncipes feudais indianos para se referir a funcionários públicos que, acusava, dilapidavam as finanças de seu estado. Num país que voltava a tatear a democracia e onde muitos temiam a eleição de um candidato à esquerda, Collor surgiu como o iluminado, o Buda que livraria o Brasil da corrupção e do comunismo.
Sua candidatura à Presidência nasceu de um negócio na China: um jantar em Pequim, em 1987, num restaurante chamado Pato Laqueado, ao lado dos então deputados Renan Calheiros e Cleto Falcão. Para surpresa de diplomatas chineses, Calheiros levantou um brinde àquele que, segundo ele, seria o futuro presidente do Brasil.
Collor foi o suposto salvador da pátria da vez. Como Jânio Quadros em 1960 — 29 anos antes — e Jair Bolsonaro em 2018 — 29 anos depois —, ele incorporou o papel de quem está contra tudo o que está aí, arrebanhou o apoio da elite econômica e da maior parte da imprensa.
No segundo turno, acusou Lula de ter procurado fazer a namorada abortar, disse que o petista sequestraria a poupança dos brasileiros e teve uma vitória simples no último debate transformada em goleada na versão que foi ao ar no Jornal Nacional. Numa antecipação do que ocorreria com Sérgio Moro e Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral da época, Francisco Rezek virou ministro do governo recém-eleito. Presidente, Collor sequestrou a poupança.
Apesar de ser filho de um senador e de ter ligações e parcerias com usineiros, ele não é um representante puro-sangue da elite brasileira. Como Bolsonaro, era o candidato possível, o não tem tu, vai tu mesmo. Isso ficaria evidente em seu declínio, desgraça que começou quando a chamada República das Alagoas mostrou que seu apetite não tinha limites. Uma ambição que ameaçou poderes e favores legitimados havia muitas décadas — o Brasil detesta concorrência até na roubalheira.
Não que a trupe por ele liderada fosse inocente. Organizada pelo amigão Paulo César Farias, a quadrilha chegou animada, encheu os bolsos de maneira desastrada, procurou estender seus tentáculos para todos os lados. Deu no que deu. À sede de vingança da esquerda derrotada em 1989 juntou-se a fome nunca saciada dos proprietários de capitanias hereditárias da política e dos negócios. Color ainda dar rasteira no irmão — até a bíblia mostra que isso não costuma dar certo.
A CPI montada no Congresso levou o governo Collor para a UTI, de nada adiantaram as sucessivas cirurgias de emergência para salvar seu mandato e ele foi defenestrado. Porém, uma denúncia cheia de falhas preparada pelo então procurador-geral da República, Aristides Junqueira, e um Supremo Tribunal Federal bem mais acomodado impediram que Collor condenado.
O ex-presidente conseguiu voltar para a política, virou senador, aproximou-se de governos que sempre estão de braços abertos para novos aliados. Mais uma vez, exagerou na dose, demonstrou não ter aprendido a lição do Fiat Elba (a compra do carro por meios heretodoxos foi a prova cabal dos desvios em seu governo). No Planalto, já acuado, costumava pedir para os brasileiros não o deixassem só — mais uma vez, não deu certo.